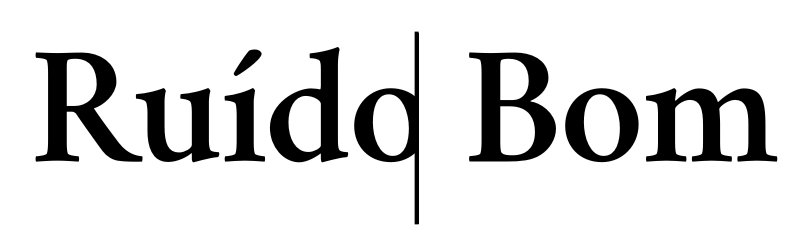Como cumprir regras se tornou uma forma sofisticada de transferir risco, neutralizar responsabilidade e preservar poder.
Nota editorial: Este artigo abre a série Conformidade como Estratégia, que analisa como práticas de compliance e governança operam menos como instrumentos de prevenção de danos e mais como mecanismos de gestão de risco jurídico, regulatório e reputacional.
Durante décadas, compliance foi apresentado como resposta técnica e moral a abusos corporativos, escândalos financeiros e falhas regulatórias. A promessa era simples: criar estruturas internas capazes de alinhar conduta empresarial, legalidade e interesse público. Códigos de ética, treinamentos, auditorias, canais de denúncia e mapeamentos de risco passaram a compor o vocabulário padrão da boa governança.
O problema não é que essa promessa tenha fracassado. O problema é que ela funcionou exatamente como foi redesenhada para funcionar.
Compliance como administração do dano, não como sua prevenção
Essa narrativa só se sustenta porque o compliance contemporâneo foi estruturado para conviver com o dano, não para eliminá-lo. Casos não são anomalias; são estatisticamente esperados em sistemas que internalizam riscos como parte do modelo de negócio – dinâmica observável, em outro contexto, no caso da Avestruz Master. O que varia não é a ocorrência do impacto, mas a capacidade de cada organização de absorvê-lo jurídica, reputacional e financeiramente.
Na prática, compliance como estratégia não se consolida como mecanismo de contenção, mas como arquitetura de administração do risco do dano. Seu objetivo central deixou de ser evitar práticas nocivas e passou a ser torná-las juridicamente defensáveis, reputacionalmente gerenciáveis e institucionalmente toleráveis. Cumprir regras, nesse contexto, não significa alterar comportamentos estruturais; significa organizar previamente as condições de sua aceitabilidade.
O deslocamento é sutil, mas profundo. Em vez de perguntar “como evitar que isso aconteça”, os sistemas de compliance passaram a perguntar “quanto desse risco é aceitável” e “como demonstrar diligência suficiente caso aconteça”. O dano deixa de ser fracasso sistêmico e passa a ser classificado como evento residual, falha pontual ou conduta individual isolada. Não se trata de perversão moral, mas de racionalidade organizacional. Em ambientes complexos e altamente regulados, o risco não é eliminado – ele é precificado, categorizado e distribuído.
O que importa não é a inexistência do dano, mas a existência de procedimentos documentados que comprovem que ele foi antecipado, avaliado e formalmente “endereçado”.
Compliance como linguagem institucional e inversão da responsabilidade
Códigos de conduta, políticas internas, treinamentos e relatórios não operam apenas como instrumentos normativos. Funcionam como artefatos narrativos. Traduzem disputas reais – muitas vezes assimétricas e socialmente violentas – em categorias neutras, técnicas e auditáveis. Nesse processo, conflitos deixam de ser políticos ou sociais e passam a ser problemas de governança. Externalidades deixam de ser escolhas estruturais e passam a ser riscos mapeados.
A linguagem do compliance não nega o problema; ela o domestica. Essa domesticação é fundamental para a preservação do poder organizacional. Ao enquadrar riscos dentro de modelos reconhecidos, a empresa demonstra racionalidade, previsibilidade e boa-fé. O sistema jurídico, por sua vez, passa a avaliar menos os efeitos concretos da atividade e mais a qualidade formal dos processos adotados.
O resultado é uma inversão silenciosa: o debate se desloca do que foi causado para como a decisão foi tomada. Quando tudo está documentado, treinado e auditado, a responsabilidade tende a migrar. Se o dano ocorreu apesar da existência de políticas e controles, então ele não é sistêmico – é desvio. A falha deixa de ser organizacional e passa a ser atribuída a indivíduos, fornecedores, terceiros ou circunstâncias excepcionais.
Essa lógica protege o núcleo decisório. Estruturas que produzem incentivos nocivos permanecem intactas, enquanto a responsabilização se concentra nos pontos mais fracos da cadeia. Compliance funciona, assim, como escudo institucional: absorve o impacto e redistribui a culpa. Não se trata de ausência de controle, mas de controle direcionado. O sistema não falha por não enxergar riscos; falha porque foi desenhado para aceitá-los dentro de certos limites, desde que acompanhados da documentação correta.
Regulação, “casos isolados” e o dano como resultado previsível
A consolidação desse modelo não seria possível sem o papel ambíguo do Estado e da regulação. À medida que o poder público passa a fiscalizar processos, e não resultados, cria-se um ambiente em que a conformidade formal substitui a efetividade material. Relatórios entregues, políticas aprovadas, treinamentos realizados e auditorias contratadas tornam-se indicadores de cumprimento. A fiscalização transforma-se em checklist.
Esse arranjo reduz conflitos institucionais e facilita a atuação regulatória em ambientes complexos, mas tem um custo elevado: normaliza a produção de dano como efeito colateral legítimo da atividade econômica. Sempre que um escândalo emerge, a narrativa é previsível. Trata-se de exceção, falha pontual, desvio de conduta. A existência de programas de compliance é mobilizada como prova de que o sistema funciona e de que o problema está restrito a indivíduos específicos.
Casos não são isolados; são estatisticamente esperados. O verdadeiro critério de sucesso deixa de ser a ausência de impacto negativo e passa a ser a capacidade de seguir operando após ele. Quando decisões são tomadas com base em matrizes de risco, análises de impacto e avaliações de custo-benefício, o dano deixa de ser surpresa. Ele é previsto, calculado e aceito. A conformidade não impede esse processo; ela o legitima.
Nesse contexto, a pergunta relevante não é “houve ilegalidade?”, mas “quem arcou com o custo da legalidade?”. Externalidades ambientais, precarização do trabalho, concentração econômica e erosão de direitos raramente violam normas de forma explícita. Elas emergem como resultado previsível de sistemas perfeitamente conformes.
Cumprir regras torna-se suficiente. Questionar o desenho das regras, os incentivos que produzem ou os impactos que legitimam deixa de ser necessário. O pacto silencioso entre quem regula e quem é regulado se sustenta sobre essa base. O problema é que os custos desse pacto são socializados. Recaem sobre trabalhadores, consumidores, territórios e instituições públicas.
Enquanto compliance for tratado como sinônimo de ética, e não como instrumento de poder, continuaremos discutindo falhas individuais e celebrando sistemas que operam exatamente como foram desenhados para operar. Afinal, cumprir regras pode ser a maneira mais eficiente de garantir que nada mude.■
Ruído Bom | Menos ruído. Mais entendimento.