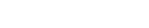Como políticos, multinacionais, celebridades e bilionários de todo o mundo usam estruturas complexas de offshores, trustes e fundações para proteger e manter em segredo seus recursos.
As offshores são empresas sediadas fora do país de residência ou de operação de seus sócios – geralmente em jurisdições conhecidas como paraísos fiscais. O objetivo declarado é aproveitar as vantagens oferecidas por esses territórios: baixa ou nenhuma tributação, sigilo bancário, estabilidade cambial e pouca burocracia. Na prática, porém, essa combinação de benefícios fiscais e opacidade transforma esses locais em refúgios ideais para recursos provenientes de atividades ilícitas, como corrupção, evasão fiscal e tráfico de drogas.
O funcionamento de uma offshore se baseia em um princípio fundamental: separar o local onde o dinheiro é gerado daquele onde ele é registrado e tributado. Uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, pode manter uma conta bancária na Suíça. As contas raramente são abertas nos próprios paraísos fiscais, mas sim em centros financeiros com sistemas bancários mais sólidos, como os Estados Unidos ou o próprio território suíço. Com a empresa e a conta ativas, o proprietário pode operar livremente, de forma anônima e com tributação mínima – ou nenhuma.
Abrir uma empresa em um paraíso fiscal não é ilegal em si. No Brasil, por exemplo, basta que os ativos sejam declarados à Receita Federal e ao Banco Central. No entanto, essa prática levanta questionamentos éticos sobre transparência e justiça tributária, sobretudo quando utilizada por indivíduos e corporações já extremamente ricos.
O conceito de jurisdição de tributação favorecida, popularmente conhecida como paraíso fiscal, e o de regime fiscal privilegiado são definidos pela legislação brasileira. A lista oficial de países e territórios considerados paraísos fiscais ou de regime fiscal privilegiado é taxativa e consta na Instrução Normativa nº 1.037, de 2010, da Receita Federal. Atualmente, cerca de 65 países integram essa relação.
Entre os destinos mais comuns apontados como paraísos fiscais estão Ilhas Cayman, Bermudas, Luxemburgo, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Belize, Chipre, Singapura e Suíça. Muitas empresas registradas nessas jurisdições existem apenas no papel – funcionam como caixas postais sem qualquer operação real. Embora algumas tenham finalidades legítimas, como planejamento patrimonial e facilitação de investimentos, muitas outras são empresas de fachada, criadas unicamente para ocultar patrimônios e dissimular transações ilícitas.
Uma offshore pode servir a múltiplos propósitos. Ela pode receber pagamentos internacionais, como no caso de uma empresa brasileira que contrata uma consultoria “fictícia” prestada pela offshore e transfere o dinheiro ao exterior; pode manter investimentos – ações, títulos e moedas estrangeiras – cujos lucros ficam fora do alcance tributário nacional; ou ainda comprar bens de luxo, como iates, jatos e obras de arte, registrados em nome da empresa, não da pessoa física, garantindo anonimato e proteção sucessória.
Como os beneficiários finais raramente aparecem nos registros públicos, essas estruturas se tornam ideais para quem busca ocultar patrimônio do fisco ou de autoridades, operando com um nível de confidencialidade quase absoluto.
Em 2021, o mundo foi sacudido por um dos maiores vazamentos de documentos financeiros da história: os Pandora Papers. A investigação revelou a face oculta da elite global – um intrincado sistema de empresas offshore, contas secretas e mecanismos de ocultação de patrimônio.
Entre os nomes expostos estão líderes políticos, bilionários, celebridades e empresários que, enquanto discursam sobre patriotismo e mérito, movimentam suas fortunas em paraísos fiscais para escapar dos próprios países que dizem defender.
No Brasil, o impacto foi direto. Sessenta e seis dos maiores devedores de impostos do país aparecem nos documentos, entre eles agentes e ex-agentes públicos de alto escalão e grandes empresários. A lista inclui figuras como o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, além de nomes do setor privado como Flávio Rocha (Riachuelo), Luciano Hang (Havan) e Rubens Menin (MRV e Banco Inter).
Os Pandora Papers expuseram uma contradição profunda: enquanto milhões de brasileiros enfrentam uma das cargas tributárias mais pesadas sobre o consumo e o trabalho, parte da elite política e econômica utiliza estruturas financeiras sofisticadas para contornar o sistema. O resultado é a perpetuação da desigualdade, a fragilização da confiança nas instituições e a certeza de que, no topo da pirâmide, as regras são diferentes – e a ética, opcional.
A socióloga Brooke Harrington é autora do livro Capital Without Borders: Wealth Managers and the One Percent (Capital sem fronteiras: gestores de riqueza e o um porcento, em tradução livre). Segundo ela, se os ricos sonegam impostos com empresas offshore, os pobres acabam pagando a conta. “Há um montante mínimo de recursos que os governos precisam para funcionar, e eles acabam repondo o que perdem para os ricos e as corporações retirando dos nossos lares”.
O Boston Consulting Group estima que cerca de US$ 10 trilhões estão hoje em empresas offshore espalhadas pelo mundo. Isto equivale ao PIB do Japão, do Reino Unido e da França juntos. Ou, a cinco vezes e meia o PIB do Brasil. Uma estimativa que, segundo o próprio estudo, pode ser conservadora.
A comunidade internacional tenta reagir por meio de acordos de cooperação. Um dos principais é o Common Reporting Standard (CRS), criado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que estabelece um padrão global de intercâmbio automático de informações financeiras entre administrações tributárias. O Brasil é signatário, representado pela Receita Federal.
Contudo, o alcance do CRS é limitado. Mesmo países participantes mantêm legislações internas que restringem o acesso público aos beneficiários de empresas, trusts e fundações – casos de Suíça, Singapura, Emirados Árabes Unidos e Ilhas Cayman, todos adeptos do CRS, mas ainda dotados de alto grau de sigilo bancário e comercial.
O acordo promove transparência entre governos, não transparência pública. As informações trocadas entre autoridades fiscais não chegam à imprensa nem à sociedade civil, o que permite que o segredo continue preservado, sem que os países descumpram suas obrigações formais da cooperação internacional.
Além disso, a maioria das offshores não aparece vinculada a pessoas físicas. As contas são abertas em nome da empresa, e os bancos reportam apenas os dados da pessoa jurídica. O beneficiário efetivo – quem realmente controla o dinheiro – permanece oculto sob camadas de anonimato, com diretores e acionistas de fachada.
Há ainda diferenças significativas no nível de detalhamento e na qualidade dos dados enviados por cada país. O resultado são informações fragmentadas, inconsistentes e de difícil utilização por parte das autoridades investigativas, o que limita, na prática, a eficácia do sistema global de transparência financeira.
Ao permitir que fortunas e transações sejam ocultadas, a estrutura offshore protege não apenas ativos, mas também crimes. A arquitetura do sistema está baseada principalmente preservação do sigilo, um princípio que, embora possa ter usos legítimos, cria um terreno fértil para ilegalidades e para a perpetuação das desigualdades. Um mundo onde alguns podem simplesmente desaparecer do radar fiscal, enquanto outros arcam com o peso do sistema tributário.
A resposta dos governos contra essa engrenagem tem sido lenta, fragmentada e frequentemente ineficaz. Cada avanço regulatório enfrenta interesses bilionários, redes de poder e sistemas jurídicos construídos para proteger o sigilo, não a transparência. Combater esses mecanismos implica enfrentar elites políticas e econômicas que se beneficiam diretamente deles – e nem todo governante está disposto a travar essa batalha.▪️
Gustavo D. Santos
Ruído Bom • Além do óbvio.
Descubra mais sobre Ruído Bom
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.